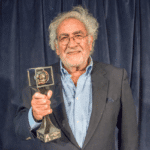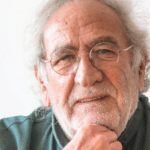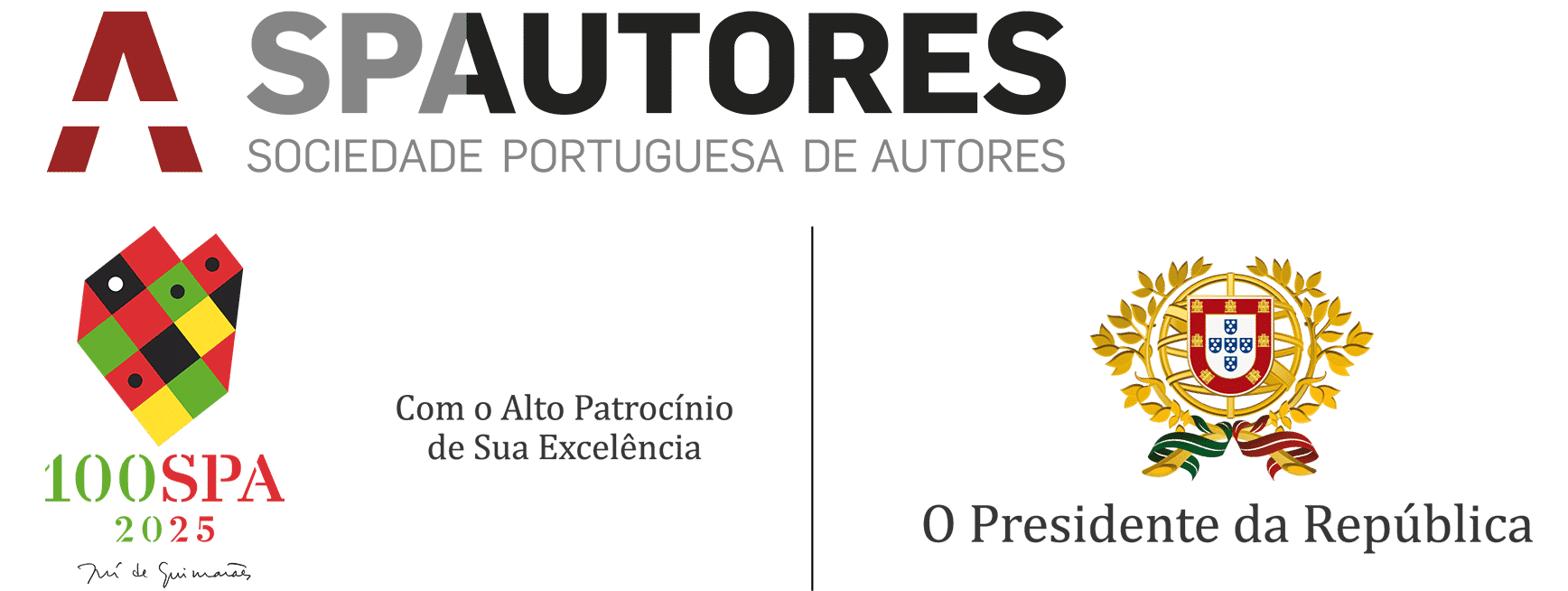Autora e intérprete recebeu o Prémio José da Ponte 2022
Como comenta o prémio José da Ponte da SPA, neste caso, atribuido pelo disco Lado Bom?
Qualquer prémio sabe sempre bem, mas este é especial pelo reconhecimento do trabalho e do esforço, sobretudo nestes últimos dois anos, que foi bastante hercúleo e com muitos momentos de frustração, mas é uma sensação de apaziguamento com o “contra a maré”. É um prémio que muito me honra, por ter o nome de quem tem e por ser da Sociedade Portuguesa de Autores e serem colegas a decidir, para mim isso é muito importante. Sinto-me realizada e contente.
“Sinto-me realizada e contente.”
O que se pode destacar neste disco?
É um disco muito pessoal. Foi escrito muito em carne viva e acompanhou um processo e só por esse motivo é que foi possível manter um disco dois anos à espera para sair. O disco gira muito em torno da maternidade e das mudanças que advêm do processo. É quase um nascer de novo noutra pele e isso traz muitas coisas a nível pessoal e interno e o disco foi escrito tanto no pré-nascimento como no pós. Tudo isso muda muito em pouco tempo. Há muitas canções que eu escrevi com a Rosa na barriga e outras com a Rosa ao colo ou a tentar que ela adormecesse. É um disco que é uma espécie de diário dessa viagem interna que eu fui fazendo, com tudo o que me foi assombrando e ao mesmo tempo também criando surpresa e espanto.
Houve uma alteração do ponto de vista criativo influenciada pela maternidade?
Acho que sim, porque é muito difícil separar a minha vida pessoal da profissional, do ponto de vista criativo.
No resultado final há Rita?
Sim, não consigo fazer muito a separação. E este episódio da minha vida mudou-me. Sobretudo sinto que me tornei mais pragmática em muitas coisas, no bom sentido. Não mais racional, necessariamente. Mas mais atenta e em contacto comigo própria, com aquilo que eu sinto e a forma como me vou expressar, acho que de uma forma mais clara e mais direta e mais confiante. E isso é uma grande diferença. E há também uma diferença de prioridades… O que é que é prioridade? A perspetiva muda. E também um lado muito interessante que é o lado do instinto, que se fala no instinto maternal, mas trazê-lo também para o lado criativo, de não filtrar tanto nem julgar tanto.

O Lado Bom é escrito em português.
Essa também é uma diferença grande, que já era uma vontade que eu tinha há muito tempo e que eu ainda não tinha coragem, nem tempo suficiente para ter trabalhado a minha escrita e o meu canto na nossa língua. Fui fazendo algumas experiências que me foram dando alguma confiança e que me foram permitindo conhecer este processo que se tornou natural. As letras das primeiras canções vinham em português. Portanto, limitei-me a deixar seguir o jogo e, de repente, tinha as canções todas em português.
Acabou por ser um processo natural.
Sim, mas que já vem de trás. Vem mastigado.
Enquanto autora, há um lado combativo?
Sim. Eu não consigo ficar indiferente a algumas coisas que eu considero importantes e justas, do meu ponto de vista. Sou sim nas minhas relações e até como lido com as coisas profissionalmente. Acho que sou uma pessoa bastante honesta, no sentido em que respeito muito aquilo que sinto como o que é que é mais importante. Acho que tenho uma capacidade de empatia e de me pôr no lugar do outro e por isso há situações que mexem comigo, mesmo que não se passem comigo e das quais eu sinto necessidade de falar. E depois há outras, como o facto de ser mulher, e uma mulher na música, enfim. E disso preciso de falar, porque acho que são questões pertinentes. Portanto, em vez de termos um elefante na sala, às vezes ganho coragem e aponto o elefante e tento falar sobre isso e faço isso de uma forma bastante orgânica. Não gosto de estar em luta, nem tenho personalidade de estar em confronto, mas quando as coisas me parecem necessárias, acho que o faço.
Falando das mulheres na música, desde 2008, início deste percurso a solo, até agora, o contexto da música mudou muito?
Muito, muito. Ouvindo rádio e os sucessos que têm saído e chegado a mais gente, são quase todos de mulheres. Isso é muito interessante. E isso era uma realidade completamente distante. Quando eu comecei e lancei o meu primeiro disco em 2008 havia mulheres intérpretes, elas já existiam, mas ainda não tinham vindo à tona. Essa mudança foi muito importante e muito boa e acho que ainda tem muito espaço para andar. Na altura senti-me um bocadinho sozinha. Não havia muitas mulheres compositoras e intérpretes, com uma carreira em nome próprio e hoje em dia é quase normal. Já não é aquela coisa de olharmos para uma agenda de um teatro e está lá um nome de uma mulher ou não está sequer… Mas ainda há muito caminho para fazer.
“Quando eu comecei e lancei o meu primeiro disco em 2008 havia mulheres intérpretes, elas já existiam, mas ainda não tinham vindo à tona. “

E a diferença entre o que significava lançar um álbum em 2008 e o que significa agora …
Sim… Em termos de indústria e de comunicação da música com as pessoas e desse consumo é uma diferença brutal. Hoje em dia não se vendem discos. Há a perda de sentido de fazer um disco inteiro. Isso vai deixar de fazer sentido, saírem discos com 12 canções… Há mais esta coisa da canção, o que também existiu nos anos 70 e assim. Agora há coisas que, de facto, são mais complexas para os artistas no retorno financeiro, para quem vive disto como profissão. As vendas de discos, as plataformas que pagam miseravelmente… Tudo isso dá uma liberdade e aproxima ao ouvinte, que tem acesso a muito mais música, mas, por outro lado, isso também torna tudo muito mais volátil e muito mais superficial. Há tanta coisa… Eu vejo por mim. Perco-me a tentar ouvir tudo o que tenho à disposição. Assim acaba por ser mais inglório na comunicação e na forma de chegar às pessoas.
É uma dificuldade
Sim. Eu sinto-a. Acho que também socialmente as coisas têm vindo a alterar-se e acho que o tipo de comunicação é diferente. A interação com o público e como se encara a música e a própria indústria. Basta ver a enorme diferença, pois eu vim de uma garagem dos anos 90. É uma realidade que agora há pouco, não é? Muita coisa mudou mesmo.
“Hoje em dia não se vendem discos.“
Hoje grava-se em casa.
E há uma maior autonomia, o que tem coisas maravilhosas. Isso à disposição de um criativo é óptimo. Temos que nos adaptar ou encontrar outras formas e mantermo-nos fiéis ao que somos.
Continuam a surgir reações aos concertos em tempo de confinamento, no jardim de casa?
Sim. Isso foi uma coisa muito engraçada, porque começou com uma ideia de pantufas, em casa. E, de repente, às vezes chego a um sítio ou recebo mensagens de pessoas – não só de Portugal – que acompanharam aquelas lives.
Houve um sentimento muito específico da primeira fase da pandemia.
A grande estrela da série era a Rosa. As pessoas não têm muita vergonha de me dizer isso, mas eu percebo… O que é que a Rosa vai fazer a seguir? É muito curioso. Acabámos por fazer companhia a muita gente durante um período um bocado incógnito. Claro que isso, com o passar do tempo, a energia para qualquer artista deixa de fazer sentido… Não temos trabalho. Alguma coisa tem que ser feita.
Mas, nos próximos tempos, e agora, a agenda de espectáculos está preenchida?
Estamos nessa batalha. Ainda não está normalizada e há muitas regras para seguir e acompanhar e acho que há algum medo da parte do público, o que eu compreendo. Também há o processo, difícil, das datas que foram desmarcadas e que agora têm que ser remarcadas, que atrasam todo o processo para os programadores, porque é uma logística complexa.
Na altura era um repertório extenso?
Eu sabia dezenas de canções. Desde Leonard Cohen, Dylan e Paul Simon, também. O que me interessava era tocar aquilo o melhor possível. Nessa altura, 1978 a 1981, havia músicos de rua todos muito diferentes uns dos outros. Eu conheci um par de alemães que só sabiam tocar duas músicas. E tocavam essas duas músicas perfeitamente bem, horas e horas seguidas. Ainda por cima eram bonitos e faziam imenso taco. Eu era incapaz de fazer isso. Eu lembro-me que a Billie Holiday não cantava a mesma canção no mesmo dia. Eu também não. Aconteceu algumas vezes e acontece, mas [por regra] não. Ia cantando as coisas de que eu gosto, mas sem estar a repetir porque aquela é mais conhecida, ou não sei quê. Aliás, eu aproveitava esse espaço todo de liberdade para tocar coisas muito pouco comerciais. Eu sabia que a maior parte das pessoas nunca tinha ouvido aquilo. A começar pelas minhas canções. Em França, às vezes cantava as minhas canções. Mas havia uma coisa curiosa. De manhã, cedo, cantava canções pesadas, em Francês. Estou a falar de Léo Ferré e estou a falar de Jacques Brel. As pessoas que iam para o trabalho, quando eu começava a tocar as coisas pesadonas… “Avec Le Temps” [não reagiam]. Se eu começasse a tocar coisas bluegrass, alegre, mesmo que ninguém conhecesse “you are my flower”, as pessoas reagiam logo bem.
Às vezes, mais tarde, também tocava as coisas mais pesadas do Cohen e do Dylan e, por vezes, as pessoas que iam sair naquela estação só saiam depois de eu acabar a música. E às vezes convidavam-me: “não queres ir beber um copo lá acima?”. E eu muitas vezes disse que sim: vamos beber um “demi”.
O contexto dos músicos e da música mudou enormemente desde essa altura.
Eu tenho 71 e meio. Acho que comecei na altura certa e os tempos eram mais fáceis. Há vários dados para essa equação. Não havia internet nem spotify. Havia poucos estúdios, poucas editoras, eu conhecia tudo o que era bom músico em Portugal. Do rock ao jazz. Da pop. Bons pianistas. Eu era amigo de várias pessoas em posições chave.
Dentro das editoras, por exemplo?
Sim. Estou a lembrar-me do Thilo Krasman, que era um grande músico e maestro. Estava à frente de uma editora. Havia o Carlos Cruz que estava à frente da editora do Zeca Afonso, do Sérgio, do Adriano, esse pessoal todo. E para gravar o meu primeiro single, em inglês, eu fui ter primeiro com o Thilo Krasman e disse: “importas-te de gravar aqui estas duas canções, para te mostrar e ver se consigo gravar um disco?”. E o Thilo arranjou um bocado e disse que sim: “Toca aí”. Era tocar e cantar ao mesmo tempo. “OK. Estão feitas as duas.”. “Então e a editora está interessada?”. E ele disse: “Não, a minha não. Mas pega nisto e leva”. Eu, com as gravações em bobine, fui ter com o Carlos Cruz e ele achou piada. E teve o OK do Arnaldo Trindade. Não havia contrato. Não havia cachet, sequer. Eu era um puto. Fizeram uma edição de 300 ou 500 discos e acho que aquilo vendeu três ou quatro, mas ofereceram-me muitos para os amigos e a família. As coisas foram-se processando assim. O Arnaldo Trindade, o grosso do negócio dele, era electrodomésticos. Eu recebi um frigorífico e uma máquina de lavar roupa, salvo o erro. No disco seguinte fui para uma editora que era a Sassetti. Pagaram-me com uma boa aparelhagem de som. Mas no meio disso tudo eu começo a ser conhecido no meio musical e editorial, entre os músicos e os responsáveis das editoras. E o Mário Martins, nessa altura da Valentim de Carvalho, abriu-me as portas para o primeiro álbum. Disse: “vai lá para estúdio e faz o que quiseres”.
“lembro-me de cantar “Like a Rolling Stone”. E não estava nada a querer agradar. Eu estava a atacar os gajos “How does it feel!”“
Liberdade total. E para além disso confiou em mim enquanto orquestrador. Deu-me um trabalho e era disso que eu viva. Quem é que conhecia o Jorge Palma? Em 1973 a 1976… O trabalho que ele me deu, fazer arranjos para a Tonicha, para o Paco Bandeira, para a Amália, e outros de quem eu já nem me lembro o nome, foi onde ganhei o meu dinheiro. Sobretudo enquanto orquestrador e músico de estúdio. E a coisa foi seguindo. Em 77 marimbo-me nisto tudo e saio para passear. Sem rede. Lá fora ninguém sabia quem era o Jorge Palma. Nem como músico, nem como orquestrador, nem como cantor, nem porra nenhuma. Portanto, foi aquela coisa: “É melhor estar bem disposto e cantar as coisas bem, com alma. O resto virá”.
É o que deve fazer hoje um jovem músico?
Eu tenho dois filhos e qualquer deles tem um estúdio em casa. Eu não tenho. Mas gravei aqui em casa um disco de poesia, da mãe da Rita, minha mulher, que é uma amante de poesia e diz poesia muito bem. Ela gravou aqui em casa poemas a seco. O disco tem espaços musicais que eu fiz, de acordo com o que eu a ouvia a dizer. E instrumentais. E foi tudo uma cena familiar. Feita aqui em casa e resultou. Eu neste momento, por exemplo, tenho o dictafone, que é para gravar ideias que eu tenho para o telemóvel. E depois envio. E a pessoa do outro lado responde. Hoje em dia os putos todos têm estúdios em casa. Não sei depois até que ponto isso resulta. Há todo um processo. Quem distribui? Eu não tive esse problema, felizmente. Quando uma editora não estava interessada eu ia bater à porta da outra. Neste momento o meu catálogo divide-se por duas editoras, basicamente. A Warner e a Universal. Até um dia chegarem a acordo e uma delas ficar com o catálogo todo. A verdade é que tenho as portas abertas para gravar, quando for a altura. Mas acho que está mais difícil para os miúdos começarem uma carreira.
Mas perdeu-se o paradigma do álbum.
Vai deixando de existir, claro. No meu caso justifica-se, porque é uma continuação. Há todo um percurso. Para quem gosta do meu trabalho, gosta de ter o vinil, por exemplo.
Os estúdios em casa são uma solução para começar?
É bom, até para experimentar instrumentos e a gravação com várias pistas. Nesse aspecto está mais acessível. Agora há 500.000 pessoas a fazer isso, mas depois a visibilidade passa pelas editoras e as rádios, a televisão…
A música do Jorge Palma mudou muito desde o início?
Está sempre a mudar. De disco para disco. Em cada disco estou sobre influências diferentes. Isso nota-se bem. Quando estou mais virado para Clássica, Jazz ou rock. A minha maneira de fazer música não mudou. O género é que continua a ser diferente de período para período. Em relação ao meu próximo disco – já se torna anedótico – dizem-me: “Então?”. E eu respondo: “Calma. deixa ver”. Eu podia ir já para estúdio. O meu produtor vai ser o Mário Barreiros. Mas não quero que no estúdio seja uns dias de uma semana e outros depois. Todo o trabalho em casa se junta ao trabalho em estúdio. Grande parte do trabalho final é feito lá. Transforma-se, porque sou um compositor e escritor muito solitário. Já tenho feito coisas com outras pessoas. Mas foram raras essas ocasiões. Posso pegar numa letra do Carlos Tê, do João Monge, ou num poema do Al Berto, e musicar, porque basicamente sou músico e é-me muito mais fácil musicar um texto do que o contrário – que é ter a música e inventar as palavras certas para essa música.
“Em cada disco estou sobre influências diferentes. Isso nota-se bem.“
E Ary dos Santos?
Foi um grande mestre e uma peça fundamental na minha evolução enquanto escritor de palavra. Essa influência ficou.
Ao longo deste percurso relacionamos sempre Jorge Palma com três instrumentos: voz, guitarra e piano. É possível preferir um?
A voz é melodia. Eu posso escolher a tonalidade e até inventar maneiras diferentes de cantar isto ou aquilo. Com a voz eu aprendo a cantar. No instrumento… Eu sou muito mais pianista do que guitarrista, porque eu tenho formação clássica no piano. Na guitarra sou autodidata. Aprendi com os amigos, a tirar coisas dos discos.
Há músicas em que se nota essa formação pianística.
Nalgumas músicas nota-se.
Lembro-me de uma, por exemplo, em que está lá Bach.
Eu sei de que é que estás a falar. É uma cena mesmo Bachiana.
Minha senhora…
…da Solidão. Que é inspirado no Prelúdio e Fuga em Dó Menor, do Livro I. Recomecei a estudá-lo recentemente para uma homenagem à Olga Prats, no Centro Olga Cadaval. Mas na véspera estava nervosíssimo e fui para a minha zona de conforto. Toquei uma canção minha. Mas está ali [no piano] para eu recuperar. Isso e um concerto de Mozart. Há uma sonata de Beethoven, que também vou por de pé. Para mim.
Nos tempos livres, aqui em casa, ouve-se muita música?
Tem alturas.
E os géneros também têm alturas?
Os géneros também. Está tudo ligado. De repente estou aqui e ponho uma Sonata de Beethoven ou uma coisa de Debussy. E depois também tem a ver com as pessoas com quem vais falando em cada momento. Por exemplo, o Laginha sabe que eu gosto de bluegrass e disse-me: “Experimenta ouvir o Chris Thile”. Fui ver e é uma loucura. Aconselho-te a ouvir o Chris Thile, por exemplo, com o Brad Mehldau, no piano. E tudo a improvisar. Eu, se for preciso, a seguir estou a ouvir Ennio Morricone. E os meus filhos também me dão sugestões. Normalmente com cenas mais viradas para o rock.

ENTREVISTA À REVISTA AUTORES DIGITA Nº6 – MARÇO 2022
Veja AQUI a Revista